Ao ver o conjunto de curtas que um produtor decidiu juntar para compôr o filme sobre o 11 de Setembro ocorreram-me algumas coisas.
Por exemplo, que o 11 de Setembro só pode ser nomeado assim porque foi talvez a primeira tragédia vivida em directo televisivo, radiofónico e internético pelos produtores da esmagadora maioria de fluxo comunicacional no planeta. Por isso o 11 de Setembro se impôs como uma evidência do terror a todo o mundo. Há pelo menos duas curtas que questionam essa evidência de forma algo indirecta,e quanto amim conseguida: o filme de Samira Makhmalbaf (??) com as crianças afeganistãs refugiadas exploradas pelo trabalho infantil a falarem do atentado numa muito rica desconstrução da evidência da universalidade da revolta e da piedade que o terror televisionado deveria transmitir ao homem contemporâneo. O outro é o filme bastante fraco do realizador da Costa do Marfim que, mesmo assim, acaba por revelar numa espécie de subtexto a completa indiferença do quotidiano de uma capital africana (embora pequena cidade) à tragédia dos ianques. Se for assim, 11 de Setembro significa para esta gente, que merece tanta consideração como qualquer outra, exactamente o que significava antes dos atentados. E para isto concorre não só o facto de naquele momento as pessoas não estarem colonizadas pelo american way of thinking, (que é, como qualquer outro, autocentrado) mas também de não disporem da mais pequena chave interpretativa dos conteúdos simbólicos da mensagem do terror: o World Trade Center, o pentágono, Nova Iorque, são tão desconhecidos como o solo lunar. Um avião contra uma torre é um fait divers.Paradoxalmente, e era aqui que queria chegar, o facto de esta gente estar essencialmente subtraída aos fluxos da colonização mediática (com N razões diferentes e de consequência também diferentes) torna-os imunes às evidências totalizadoras do espectáculo televisivo. E acho que isto é politicamente relevante porque de alguma forma torna esta gente mais informada. Ao invés, parece-me necessário desmistificar, do lado de cá da barreira mediática, o consenso que se gerou à volta da inadmissibilidade do terror. Sem querer entrar na discussão sobre o branqueamento emocional do terrorismo de Estado americano, que me parece também evidente, fiquei a pensar na tremenda injustiça que as lágrimas vertidas pelos mortos de Nova Iorque representam para os que morreram hoje, ontem, anteontem e por aí fora em todo o mundo por causa de decisões que implicam o uso da máquina de guerra americana. E como, de maneira muito mais forte do que provavelmente admitimos, essa injustiça se constrói todos os dias, banalmente, num episódio dos Sopranos ou num filme de Hollywood, que nos vendem o americano como um de nós, que normalizam o americano como aquele tipo dotado de/ou que concentra as características mais autênticas e definidoras do ser humano, ou melhor, do Homem (admitindo que todos fomos, muito iluministicamente, doutrinados a venerar essa figura mítica). Claro que isto tem tudo a ver com as noções de civilização, confronto ocidente/oriente e outras construções ideológicas. Por isso não consigo, como nunca consegui, indignar-me com o 11 de Setembro. Ou por outra, o mundo está cheio de 11 de Setembros, a maior parte deles por responsabilidade directa do Estado americano. Grande coisa, morreram uns quantos (uma estatística) em duas torres em Nova Iorque, sai um coro de carpideiras com controlo remoto na Casa Branca. É para mim pornográfica a propaganda da emoção com a morte dos atentados terroristas de Nova Iorque, que continua a desempenhar o seu papel no combate político. O 11 de Setembro ou é tudo ou então não pode ser nada.




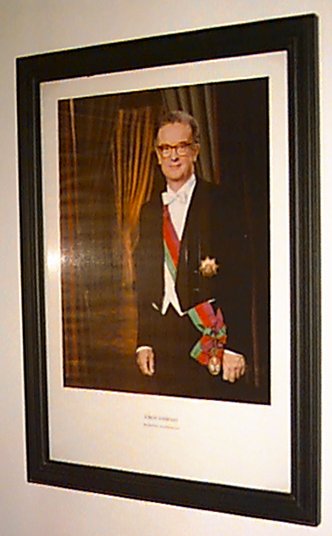


















 Eu gosto do ar despachado, escorreito e assumidamente beto da nossa ministra da educação. Provavelmente é assim simpática e humilde porque está no meio de uma alhada e ainda não sabe se o Morais Sarmento vai aconselhar a sua demissão.A Fenprof acertou em toda a linha, disse que por este andar só no fim do mês de Setembro e que a melhor opção neste momento seria refazer manualmente a listagem. A amiga do Deco, a Fátima Bonifácio diz que todos os anos há problemas com o início do ano lectivo, toda a gente se lembra de assim ser(A senhora vive nos fulgurantes anos de 80 e 90 ou então tem um fraquinho pela Maria do Carmo). Vou hoje ligar para o ministério da educação para oferecer uma ajudinha nas listas já que este mês fico mesmo sem trabalho.
Eu gosto do ar despachado, escorreito e assumidamente beto da nossa ministra da educação. Provavelmente é assim simpática e humilde porque está no meio de uma alhada e ainda não sabe se o Morais Sarmento vai aconselhar a sua demissão.A Fenprof acertou em toda a linha, disse que por este andar só no fim do mês de Setembro e que a melhor opção neste momento seria refazer manualmente a listagem. A amiga do Deco, a Fátima Bonifácio diz que todos os anos há problemas com o início do ano lectivo, toda a gente se lembra de assim ser(A senhora vive nos fulgurantes anos de 80 e 90 ou então tem um fraquinho pela Maria do Carmo). Vou hoje ligar para o ministério da educação para oferecer uma ajudinha nas listas já que este mês fico mesmo sem trabalho.






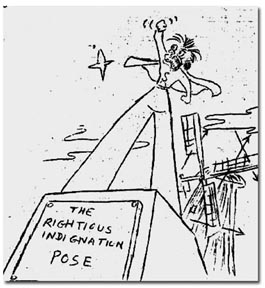











 Há alguns anos já tinha lido A trilogia de Nova-Iorque na ressaca de uns filmes com o selo Auster em sessões nos cinemas onde o povo não vai. Lembro-me de três, Fumo, Fumo Azul (numa tradução idiota) e Lulu on the bridge (nas mãos dos tradutores que temos a coisa não andaria longe de Lulu na ponte...). Há dois meses, não sei porquê, decidi comprar Moon Palace (idiota tradução da Presença como Palácio da Lua) e depois The Book of Illusions. Apesar de ter gostado e de não seguir na leitura nenhuma ordem cronológica de produção, aconteceu que Paul Auster começou a repetir-se. Nos temas e nas soluções narrativas. Na Trilogia de NI tínhamos três histórias em tom de policial, com narrador e personagens perdidos no seu vazio existencial, a que a grande cidade emprestava uma côr negra e labiríntica. Em Moon Palace e The Book of Illusions as personagens voltam a perder-se na tentativa de definir sentidos para a vida, com os livros a explorarem sempre o tema do indivíduo autorecluso, em perda dos outros e do mundo. Em todos há personagens, normalmente as principais, mas também as secundárias, que a dada altura vagabundeiam sem sentido, num parque na cidade a alimentar-se de lixo, num apartamento convertido em gruta do leão ferido, em viagens cross-country pela América até ao fim de todas as estradas. Já como em Lulu on the bridge, há sempre a intervenção de algo inexplicável e inexplicado que salva Marco Fogg, David Zimmer ou Hector Mann do fim, normalmente o fascínio por uma mulher, com a qual mantêm uma relação de que saem "lavados". Ora isto define uma forma de construir as histórias algo linear, como se o Auster andasse sempre a sacar de trunfos para ganhar mais umas páginas de texto. Por outro lado estas coisas adequam-se bem ao "ar do tempo", à percepção comum das contingências da vida, toda a gente está disponível para se fascinar com o inexplicável, com o irracional, e para se confortar com os finais felizes sem justificação. O resto é bom e vê-se que aquilo leva ali muito trabalho. Em rápida consulta pela net, vê-se que as referências são sempre despoletadas pela reverência à qualidade da escrita do Auster, mas ninguém arrisca a crítica. Ou por outra, há textos laudatórios, glosadores e contextualizadores mas não há crítica, situação que me parece muito comum na imprensa que leio, e que se resume ao Cartaz do Expresso e ao Mil Folhas do Público.
Há alguns anos já tinha lido A trilogia de Nova-Iorque na ressaca de uns filmes com o selo Auster em sessões nos cinemas onde o povo não vai. Lembro-me de três, Fumo, Fumo Azul (numa tradução idiota) e Lulu on the bridge (nas mãos dos tradutores que temos a coisa não andaria longe de Lulu na ponte...). Há dois meses, não sei porquê, decidi comprar Moon Palace (idiota tradução da Presença como Palácio da Lua) e depois The Book of Illusions. Apesar de ter gostado e de não seguir na leitura nenhuma ordem cronológica de produção, aconteceu que Paul Auster começou a repetir-se. Nos temas e nas soluções narrativas. Na Trilogia de NI tínhamos três histórias em tom de policial, com narrador e personagens perdidos no seu vazio existencial, a que a grande cidade emprestava uma côr negra e labiríntica. Em Moon Palace e The Book of Illusions as personagens voltam a perder-se na tentativa de definir sentidos para a vida, com os livros a explorarem sempre o tema do indivíduo autorecluso, em perda dos outros e do mundo. Em todos há personagens, normalmente as principais, mas também as secundárias, que a dada altura vagabundeiam sem sentido, num parque na cidade a alimentar-se de lixo, num apartamento convertido em gruta do leão ferido, em viagens cross-country pela América até ao fim de todas as estradas. Já como em Lulu on the bridge, há sempre a intervenção de algo inexplicável e inexplicado que salva Marco Fogg, David Zimmer ou Hector Mann do fim, normalmente o fascínio por uma mulher, com a qual mantêm uma relação de que saem "lavados". Ora isto define uma forma de construir as histórias algo linear, como se o Auster andasse sempre a sacar de trunfos para ganhar mais umas páginas de texto. Por outro lado estas coisas adequam-se bem ao "ar do tempo", à percepção comum das contingências da vida, toda a gente está disponível para se fascinar com o inexplicável, com o irracional, e para se confortar com os finais felizes sem justificação. O resto é bom e vê-se que aquilo leva ali muito trabalho. Em rápida consulta pela net, vê-se que as referências são sempre despoletadas pela reverência à qualidade da escrita do Auster, mas ninguém arrisca a crítica. Ou por outra, há textos laudatórios, glosadores e contextualizadores mas não há crítica, situação que me parece muito comum na imprensa que leio, e que se resume ao Cartaz do Expresso e ao Mil Folhas do Público.



 seguindo o seu rasto encontrámos o resto dos utensílios, de materiais vários, do cozinheiro Tony Cragg.
seguindo o seu rasto encontrámos o resto dos utensílios, de materiais vários, do cozinheiro Tony Cragg.

